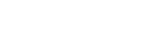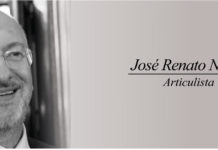Roberto Barão Varalda
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, estabeleceu o
sistema de corresponsabilidade da Família, Estado e Sociedade para assegurar a garantia dos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, dentre eles, o direito à convivência familiar e comunitária. Mas nem sempre foi assim. Em Roma, a família detinha o poder absoluto, inclusive o direito sobre a vida e morte dos filhos. Na Grécia Antiga, os pais transferiam para o Estado o poder sobre a vida e criação dos filhos, com o fim de prepará-los para o Exército. No Brasil Colônia, havia a preocupação com os infratores e respostas repressivas, com penas severas e, em 1738, inaugurou-se a Roda dos Expostos da Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro, para o recolhimento dos expostos. As Ordenações Filipinas, os Códigos Penais de 1830 e 1890 preocuparam-se com o sistema de responsabilização infracional, com base na teoria do discernimento do ato praticado, sem se preocupar em diferenciar crianças e adolescentes em situação de risco e os que praticam atos infracionais. A todos, indistintamente, começaram paulatinamente a estabelecer direitos, como os individuais (1ª dimensão – século XVIII), oponíveis contra o Estado (vida, liberdade e propriedade), os sociais, econômicos e culturais (2ª dimensão – século XIX), oriundos da industrialização, êxodo rural e crescimento das cidades, como educação, saúde, moradia, segurança, previdência social e, a partir daí, surgiram as medidas assistencialistas às crianças e aos adolescentes. Começava-se porém a preocupação inicial de proporcionar a esse público infantil uma proteção especial, em 1899, com a criação, nos EUA, do primeiro Tribunal de Menores e, em 1924, com a Declaração
de Genebra. No Brasil, em 1927, criou-se o primeiro Juizado de Menores, sob o comando do juiz Mello Matos e, em 1927, o primeiro Código de Menores, que se preocupou com o estado físico, psicológico e moral das crianças. O Código Penal de 1940 fixou a imputabilidade penal aos 18 anos, contudo, a proteção infantojuvenil permaneceu sob a doutrina da situação irregular, de caráter filantrópico, com fundamento assistencialista e centralidade no Poder Judiciário. No plano internacional, a recomendação de proteção especial ao publico infantojuvenil solidificou-se com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e a Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1959, mas o marco revolucionário, como força normativa, veio apenas com a
doutrina da proteção integral, abraçado pela Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, em 1989 e, no Brasil, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990, com a
redistribuição-descentralização de responsabilidades e atribuições
para a concretização de política pública a esse público
infantojuvenil, agora sujeitos de direitos. No final do século XX,
consolidou-se, por fim, a 3ª dimensão de princípios, com objetivos
fundamentais de construção de uma sociedade livre, justa e solidária (artigo 3º, I, da Constituição Federal), ou seja, o princípio da solidariedade tornou-se o desafio para a superação do individualismo pela função social dos direitos. Justamente com esse novo olhar, de princípios com status de direitos (fase pós-positivista) e não mera pauta programática, que a solidariedade, aliada à responsabilidade da sociedade com a proteção dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, impõe-se como uma tomada de consciência pelo bem comum. Vê-se assim que os direitos infantojuvenis e o sistema de corresponsabilidade foram frutos de um processo histórico.
Nesse novo contexto, foi lançado neste mês de outubro o Programa
Caminhos do Afeto – Construindo uma Nova História, pelo Judiciário
(Dr. João Carlos Saud Abdala Filho) e pelo Ministério Público (Dr. Herbert Wylliam Vitor de Souza Oliveira), com atribuições na área da infância e juventude, em Bebedouro, com base nos Provimentos CG 36/14 e 40/15, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Segundo levantamento do Conselho Nacional de Justiça, 95% dos candidatos a adoção não aceitam adotar irmãos, e quanto ao sexo, 33,80% preferem meninas. A maior dificuldade está na adoção em razão da idade, sendo que 20,55% de pretendentes aceitam crianças com 0 anos de idade e 8,07% com 5 anos de idade. A intolerância racial também resulta na preferência do adotante por crianças brancas (90,71%) frente à 30,97% que optam apenas por adotar crianças negras. A partir dos 6 anos, o número de pretendentes sofre redução significativa, o que demonstra a existência de um grupo de crianças e adolescentes institucionalizados sem famílias. A impessoalidade decorrente do atendimento coletivo e o não êxito do retorno à família natural ou colocação em família substituta, por certo acarreta danos psicológicos diante da ausência de referencial de afeto, de contato corporal, de estímulos individualizados (sensorial, motor e afetivo), de respeito às características individuais e de participação na formulação de regras de convivência.
O Programa surge, então, como forma de romper essa fragilidade
afetiva com a quebra do sentimento de abandono e recuperação da
autoestima. O Apadrinhamento Afetivo constitui-se em compromisso assumido pelo padrinho ou madrinha, com idade mínima de 21 anos e 16 anos a mais que o afilhado, de colaborar com o desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico, cognitivo, educacional ou financeiro de crianças e adolescentes com remotas possibilidade de reinserção familiar ou colocação em família adotiva. Essas são inclusive as Orientações Técnicas – Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome: “Nos programas de Apadrinhamento Afetivo devem ser incluídos, prioritariamente, crianças e adolescentes com previsão de longa permanência no serviço de acolhimento, com remotas perspectivas de retorno ao convívio familiar ou adoção, para os quais vínculos significativos com pessoas da comunidade serão essenciais, sobretudo para o desligamento do serviço de acolhimento”.
Por sua vez, o ECA, em seu artigo 92, incisos VII e IX, já determina às entidades que desenvolvem programas de acolhimento adotar como princípio a participação na vida da comunidade local e de pessoas da comunidade no processo educativo. Além disso, o Projeto de Lei nº 5.850 de 2016, em tramitação no Congresso Nacional, em seu artigo 19-B, altera o ECA justamente para incluir como direito o apadrinhamento afetivo, dando concretude aos princípios da solidariedade e corresponsabilidade constitucionalmente estabelecidos. Visa assim proporcionar à criança e ao adolescente vínculos além da instituição de acolhimento, por meio de visitas, passeios nos finais de semana e férias, comemoração de aniversário ou datas especiais, além de possibilitar ao padrinho ou madrinha a colaboração com a qualificação do afilhado, seja propiciando o acesso a cursos profissionalizantes, estágios em instituições, reforço escolar, práticas de atividades esportivas etc. Os laços de afeto e de solidariedade derivam da convivência e justamente nessa corrente de pensamento humanista, voltada para o homem em favor do homem, que o Programa Caminhos do Afeto – Construindo uma Nova História de Bebedouro poderá se consolidar.
Colaboração de: Renato Barão Varalda – Promotor de Justiça da Infância e Juventude em Brasília/DF