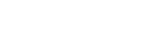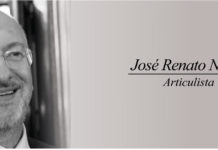“… As crianças têm mais necessidade de modelos do que de críticas”. – (Joubert)
Julio Cesar Sampaio
Toda a mitologia grega foi moldada em supostos deuses pela imagem e semelhança dos homens gregos, porém, eram estes temerosos e poderosos. Heródoto nos lega que tanto Hesíodo como Homero (Ilíada e Odisseia, poemas que inauguram a história grega), apresenta seus deuses com seus epítetos, dos quais toda a base da mitologia grega se perfaz, hoje, por esses dois poetas. Não obstante, mesmo em meio a toda essa mitologia, surge no pensamento ocidental, particularmente entre os gregos, uma nova atitude, que tem êxito devido às condições sociopolíticas, ou seja, a de não aceitar relatos sobre o mundo com base na antiga tradição mitológica, mas sim questionar e exigir razões (logos) para aquilo que é aceito. Nasce, assim, a filosofia pela passagem do senso comum para o senso crítico (do mito ao logos)… Procurando resguardar-se dos mitos e poemas, os gregos trazem à tona o gosto pelo debate e suas implicações na ideia de democracia, tendo ulteriormente, na personificação dos escritos (36 diálogos) de Platão – A República, onde ele asseverava contextualmente: “que ou bem os filósofos devem governar, ou bem os governantes devem pôr-se a filosofar genuinamente”. Tal desconfiança racional (logos) e radical, por parte do célebre pensador, fez-se necessária mediante ao poder de todos e à democracia, num sentido de educar pela formação e não apenas pela informação – essa era sua ideologia e máxima na sua magnânima obra mencionada. Nasce, assim, a problemática moral e suas implicações quanto à educação, ou seja, o conflito entre a razão e a emoção ou paixão… Sua grande questão: cada um de nós é homem, à medida que participa da ideia de Homem (…) Em suma, é como fomenta o velho adágio: “Diz-me, e eu esquecerei; ensina-me e eu lembrar-me-ei; envolve-me, e eu aprenderei”. Não obstante, para dissertarmos sobre a educação e sua práxis mediante sua essência e/ou existência, ou seja, a ação de educar perante o espaço-tempo, faz-se necessário refletirmos, primeiramente, sobre estes dois conceitos: a filosofia da Essência – é marcada pelo ideal de vida do homem na “polis” (Cidade-Estado), ela se traduz na participação ativa do homem na produção de seu pensar e na relação dessa produção com a sua realidade simbólica e existencial; e, a segunda, filosofia da existência – crítica à ideologia capitalista da educação -, efetiva-se na práxis (ação) pedagógica e na crítica ao idealismo teleológico existente na educação. Não obstante, uma filosofia da educação é produzida na reflexão crítica e existencial da realidade escolar. Se na escola produzirmos nossa concepção de mundo, será nela também que atuaremos como intelectuais orgânicos da educação. Destarte, para que o educador e o educando possam agir em comunhão, faz-se necessário que tenham noção clara sobre as suas próprias naturezas integrais. O educador que não seja um autorrealizado não pode mostrar ao educando o caminho a seguir na práxis educativa. Palavras não são apenas eficientes se elas não forem o “transbordamento” espontâneo da vivência do educador. O ser é a alma, o dizer é apenas o corpo da verdadeira pedagogia. Assim como a alma gera o corpo do homem e lhe dá vida, assim o ser do educador dá vida e poder a todo o seu dizer ou ensinar. Parafraseando Nietzsche: “o filósofo sublinha a passagem decisiva de uma visão do conhecimento como contemplação ativa e formadora” (…).
(Colaboração de Julio Cesar Sampaio, Licenciado em Filosofia com pós-graduação no ensino de filosofia).
Publicado na edição nº 9760, dos dias 18 e 19 de outubro de 2014.