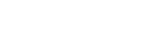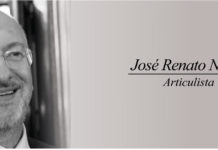Julio Cesar Sampaio
“… Não somos responsáveis apenas pelo que fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer”. – (Molière, dramaturgo francês)
Quando é que o homem pensa corretamente seu “querer”? Quando compõe e decompõe mentalmente o que, na natureza, é componível ou decomponível.
Pode-se considerar a epistemologia (sob nosso pensar, obviamente, quiçá, oblíquo e elementar) como uma espécie de matemática, que soma e subtrai, combina e separa as coisas suscetíveis dessas operações. Doravante, como no âmbito da natureza nada existe que não seja componível ou decomponível – uma vez que tudo (?) é tridimensional – é claro que o homem não deve tratar de outro assunto que não sejam as coisas integrantes da natureza, ou seja, pode um homem, certamente, “imaginar”, ou também crer em outras coisas – mas esses objetos imaginados e cridos nada têm que ver com a filosofia, de um modo geral, que é uma ciência exata e objetiva.
Em sua defesa de uma realidade acabada, segura, ordenada e estável, a filosofia teria erigido sistemas conceituais que aprofundaram a distinção entre “aparência” e “realidade”, gerando, por conseguinte, consequências epistemológicas – o querer. Ora, a condição para que qualquer evento, ou um suposto impulso por querer algo, seja descrito em termos cognoscitivos é que seja possível entendê-los nos padrões da racionalidade… Mas, explicações racionais incluem um elemento causal, pois aquelas são fomentadas como “crenças” e “supostos desejos” que tanto causam a ação quanto a justificam, ou seja: querer é poder, mas sem iniciativa de querer nada teremos! Nada… Não obstante, precisamos contextualizar aqui, de maneira pertinente, também, como complemento, o conceito de: LIBERDADE -, para melhor entendermos a vontade de querer pela ‘liberdade equânime da escolha de querer!’ (…) Quando se disserta sobre liberdade, no sentido amplo e contextual acerca do conceito exclusivo de sociabilidade (querer para poder!), podemos fazer uma ressalva da mesma, em similitude com o conceito – justiça. Ora, se “uma” liberdade ampla e irrestrita supõe (ainda) uma “utopia”, faz-se necessário aferirmos à mesma uma equidade de conceitos. Por equidade, a literatura filosófica (J. Rawls – Teoria da Justiça, 1971 -, especificamente) explicita que: “da mesma forma que cada pessoa deve decidir, através de uma análise racional, o que é que constitui o seu bem, isto é, o sistema de objetivos que lhe é racional prosseguir, também um conjunto de pessoas deve decidir, de uma vez por todas, o que é para elas considerado justo ou injusto. É a escolha que será feita por sujeitos racionais nesta situação hipotética em que todos beneficiam de igual liberdade – aceitando por agora que o problema colocado por escolha tem solução – que determina os princípios da justiça”.
Baseado nesta explicitação, damos nossa contextualização, por apontamentos: uma “suposta” liberdade far-se-á pelo debate em torno das liberdades pelas aspirações humanas; uma liberdade de pensamento e de consciência; a liberdade da pessoa e as liberdades civis não devem ser sacrificadas à liberdade política, à liberdade de participar de modo igual na vida política.
A questão é de filosofia política e sujeita a uma teoria do justo e da justiça.
Almejamos, assim, a todas as pessoas que sonham com uma (suposta) liberdade, a analisarem esta, pela concepção de justiça, ou seja, uma justiça imparcial, ainda que de forma pragmática, não obstante corroborarmos: ninguém é (na condição de) melhor que ninguém – equidade! Como diz o dito latino: “Non male sedit qui bonis adhaerit. – Chega-te aos bons e será um deles”.
Querer é poder; assim como liberdade é escolher!(…)
(Colaboração de Julio Cesar Sampaio, Licenciado em Filosofia com pós-graduação no ensino de filosofia)
Publicado na edição nº 9889, dos dias de 12, 13 e 14 de setembro de 2015.